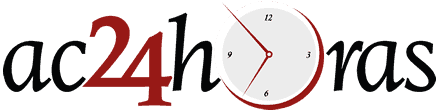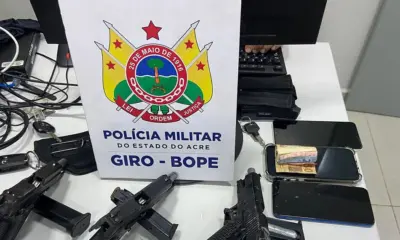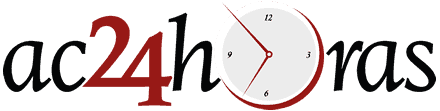Sammy Barbosa Lopes*
O exílio, mesmo na sua versão voluntária e temporária ou na modalidade “expedição de conhecimento”, tem o condão de aflorar a sensibilidade e o patriotismo. A tecnologia da modernidade, por sua vez, permite estar perto e atento, mesmo se estando longe. Gonçalves Dias é um exemplo disso. Não do fenômeno da globalização ou da comunicação just in time, mas de que a realidade só faz sentido quando interpretada e compreendida.
Vivendo um longo período de estudos na Europa, que compreendeu a sua formação jurídica em Portugal, não teve nenhum pudor em expor o seu nacionalismo ao afirmar peremptoriamente na “Canção do Exílio”, que a
“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores…”.
É óbvio que jamais alguma pesquisa científica, seja de ornitologia, botânica, astronomia ou psicologia chegou a comprovar taxativamente tais assertivas, contidas em seus versos. Embora também não as tenham negado.
Caso tivesse, por ventura, alguma pesquisa comprovado cientificamente que os sabiás, conterrâneos do poeta, não tivessem, de fato, nenhuma particularidade excepcional em seu canto, em relação aos espécimes de outros lugares. Ou ainda, a inexistência de qualquer diferencial de fertilidade ou de biodiversidade na terra por ele descrita, não significaria isso, por si só, uma “patogenia”. Nem de longe.
Ainda assim, a “Canção do Exílio” não deixaria de ser um marco na literatura brasileira. Representando não apenas a fase do “Romantismo brasileiro” e do “Nacionalismo”, surgidos após a proclamação da independência, mas, sobretudo, uma obra-prima da poesia nacional. O país, na visão do poeta.
Etimologicamente, “patogenia” é o ramo da patologia que estuda a origem e a evolução das doenças (patogênese – ou nosogenia)[1]. Refere-se ao modo como os agentes etiopatogénicos agridem um organismo e como os seus sistemas naturais de defesa imunológica a eles reagem, causando, dessa forma, as disfunções celulares e as lesões dos tecidos agredidos que originam o mau funcionamento a que se convenciona chamar de “doença”[2]. Ou seja, nem mesmo em um arroubo de veleidade intelectual, poder-se-ia assacar tal acusação ao poeta.
Se é verdade que a História repete-se ora como tragédia, ora como farsa (Marx, Zizek), não é menos verdade que a História também é escrita pelos vencedores (George Orwell). Cabendo a eles, “os vencedores”, como “prêmio de guerra”, a versão dos acontecimentos, a constituição e a difusão dos mitos épicos e a definição da personalidade e dos feitos dos seus “heróis”. Não há muita complexidade nessa percepção. Basta observar a mitologia grega com suas várias histórias de batalhas e suas categorias de divindades, semidivindades e humanos fantásticos (os heróis). Bem como, a maneira como se desenvolve a narrativa de seus feitos militares, sempre destacando virtudes como a coragem, a força e a inteligência. Ou os poemas dos Lusíadas, onde Luís Vaz de Camões glorifica o seu povo, ao descrever os feitos dos portugueses na conquista dos oceanos e das terras do além-mar.
Isso não quer dizer, nem de longe, que os fatos, tais como eles aconteceram no teatro de operações, no campo de batalhas ou mesmo em uma grande tempestade em mar aberto, a bordo de uma caravela, tenham ocorrido exatamente da forma descrita, tão virtuosa, ética, asséptica e higiênica.
Ufanista ao extremo, um farsante, poderá dizer: Afinal, Camões sequer possuía o preparo de “um historiador”. Era apenas um reles servidor da Coroa, interessado em cair em graças com El-Rey. É bem verdade, no entanto, e temos que admitir, que jamais a “academia” produziu nos seus bancos escolares alguém igual a ele.
Mas, pensemos um pouco, haveria outra maneira de relatar a saga daqueles homens que, por pura necessidade, até mesmo de sobrevivência, tiveram que vencer todos os seus medos e superstições e se lançar ao mar sem um rádio, um GPS, um radar, uma geladeira ou sequer uma lâmpada a bordo? E, ainda por cima, crentes que os oceanos estavam repletos de seres sobrenaturais, monstruosos e que a qualquer momento as bordas do mundo acabariam e eles despencariam em um abismo sem-fim.
Certamente não deveriam ser santos. Caso contrário seu lugar teria sido na teologia e não na história. Exceção, talvez, para D. Fernando, o “Infante Santo”, filho de D. João I de Portugal, morto no cativeiro de Fez, em 1443, após a fracassada tomada de Tânger, liderada por seu irmão, o Infante D. Henrique, fundador da Escola de Sagres.
A história da ocupação do território “acriano” não é lá muito diferente de qualquer outra “história de ocupação” conhecida da humanidade, seja dos europeus na América a partir do século XV, seja dos europeus na África, com a ganância utilizando-se das suas principais ferramentas: a religião, a ideologia e, sobretudo, a violência.
É, de fato, uma história repleta de violações, extermínios, assassinatos, servidão e covardia dos mais fortes (belicamente) diante dos mais fracos.
As primeiras expedições dos pioneiros sertanistas, que se embrenharam pelas “Tierras no descobiertas” em busca do “ouro negro da Amazônia”, enfrentaram e dizimaram várias etnias indígenas, os verdadeiros “donos” destas terras, desde tempos imemoriais, quando nossos ancestrais teriam chegado da Eurásia, caminhando, através do Estreito de Bering, ainda na era gelo.
As “correrias” eram abomináveis e criminosas práticas de extermínio (hoje em dia, talvez até configuradoras de “genocídio”), utilizadas na constituição dos primeiros seringais, como forma de enfretamento dos povos indígenas e de desocupação das áreas de maior concentração da Hevea brasiliensis, em que aldeias inteiras eram cercadas e atacadas covardemente, sem qualquer chance de fuga ou de defesa, e seus membros executados a sangue-frio, inclusive crianças, velhos e doentes. Salvo algumas mulheres, que eram raptadas e levadas para os seringais, na tentativa de delas vir a se obter serviços domésticos e sexuais.
Nos seringais, por sua vez, foi criado um modelo semifeudal de sociedade, baseado em um regime de mais-valia e na exploração dos seringueiros, sempre devedores no processo desfavorável de troca da borracha produzida no processo artesanal de defumação do látex pelos produtos de primeira necessidade, essenciais para a sua sobrevivência, e de sua família, no interior da floresta. Fornecidos, com exclusividade, pelo “barracão”, sempre superfaturados. Nas “colocações”, todas as demais atividades, incluindo-se aí a agricultura, eram proibidas, fiscalizadas e severamente punidas, geralmente através do uso da violência.
Tais práticas e realidade, no entanto, em uma análise até certo ponto cínica, foram até menos intensas do que os espanhóis fizeram no Peru com o império Inca, sob o comando de Francisco Pizarro. Ou o que os colonos ingleses fizeram com as nações indígenas na América, apesar do mito de “Pocahontas” e seu amor com o oficial John Smith. Ou ainda, o que os belgas fizeram no Congo.
De outro lado, se não me engano, estão devida e exaustivamente registradas e analisadas em praticamente toda a historiografia acerca da ocupação do Acre. Pelo menos nas obras que tive acesso ao longo da minha vida e que me dedico a colecionar. Basta ver os belíssimos textos produzidos por Pedro Martinello, Carlos Alberto Alves de Souza, Leandro Tocantins, José Fernandes do Rêgo, dentre vários outros nomes de vulto de nossa “elite” intelectual. Ou ainda, nas “Vidas Marcadas” ou na “Terra Caída” de José Potyguara, que documentou, como ninguém, a alma e a dura realidade dos “acrianos” nos seringais. Sem esquecer os ensaios de Euclides da Cunha sobre a Amazônia.
Ou seja, não me parece que a pólvora tenha sido descoberta nesses últimos dias.
Recentemente, o premier israelense, Benjamin Netanyahu, foi severamente acusado de “deturpar a história”, ao acusar o grande Mufti (alto dirigente mulçumano na Palestina) de Jerusalém, Haj Amin Al-Husseini, de ter sido quem teria dado ao Fuhrer alemão, Adolf Hitler, a infame ideia de exterminar os judeus da Europa, em 1941. Tal fato, demonstra, extreme de dúvidas, o risco que correm os açodados “reescritores da história”. Alguns, como no caso do político israelense, nitidamente tentando manipulá-la ao encontro de seus interesses e visivelmente lançando mão do método de interpretação no qual parte-se da conclusão (previamente escolhida) para só depois sair em busca de algum argumento e dados que a justifiquem.
As autoridades alemãs, por sua vez, ao invés de comemorarem a aparente “absolvição” histórica, em uma nítida manifestação de sensatez, visivelmente incomodadas e esquivando-se de participar da farsa, afirmaram em coro, estarrecidas, que “a história não tinha nenhuma necessidade de ser reescrita”.
A história do Acre é sim um épico de heroísmo. Ou, pelo menos, a minha pobreza de vocabulário não me permite encontrar um termo melhor para definir a saga de arigós, de pés descalços, mal alimentados e sem nenhum preparo militar, que, abandonados pelo governo de seu próprio país e completamente ignorados em sua luta pela sobrevivência, aliam-se aos interesses capitalistas dos seringalistas, a quem já encontravam-se irremediavelmente ligados, enfrentam e vencem, no campo de batalhas, o exército regular de um Estado oficial, provocando, desta forma, que o “Gigante adormecido” tomasse alguma providência quanto a uma questão há muito pendente de reconhecimento e solução.
A “providência”, diga-se, por sinal, o Tratado de Petrópolis, é apontada por muitos estudiosos como o principal case de sucesso da diplomacia brasileira até hoje, como costuma afirmar o embaixador Rubens Ricupero, que tem se dedicado a estudar o assunto.
Não será tarefa das mais fáceis reescrever a história para negar, por exemplo, a importância da borracha produzida nos nossos seringais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, com os seringais da Malásia ocupados pelos japoneses.
Igual, pode-se dizer, mesmo correndo-se o risco de se ser apontado como integrante da “elite farsante e ufanista”, a respeito do chamado “Movimento Autonomista”. Imagine, mesmo que só por um momento, a vida no Acre em uma época em que não havia televisão, telefone celular, internet, redes sociais, facebook, instagram, whatsapp… Aliás, para ser exato, sequer existia telefone ou mesmo estrada ligando o Acre ao resto do país. Uma viagem a Porto Velho, no estado vizinho de Rondônia, de pouco mais de seiscentos quilômetros, podia durar – e geralmente durava, até mais de uma semana. A comunicação com o resto do país era feita por rádio (a antiga RADIONAL) – e com hora marcada. Isso nos dias que a geringonça funcionava e se conseguia contatar alguém.
E mesmo assim, um grupo de homens e mulheres, caboclos, pode-se dizer, conseguiram fazer um movimento reivindicando nada mais do que o direito de ser brasileiro, pelo que seus ancestrais haviam literalmente lutado e morrido, a ponto de se fazer ouvir pelos políticos importantes na distantissíssima Capital Federal, sempre tão pouco preocupada com os problemas deste ermo lugar do mapa.
Desculpem o meu ufanismo elitista confesso, mas, com todo respeito, para mim, diante do que aquelas pessoas conseguiram fazer, sem qualquer recurso ou ferramenta, mobilizando-se e fazendo barulho, a ponto de transformar uma gambiarra política – que eram os territórios federais – que nos tornava ainda mais isolados e sub-importantes, em um dos estados da Federação, faz esses movimentos atuais de mobilização, organizados pelas redes sociais, através de um smartphone, parecerem fichinha.
Assim, não é de se espantar a luta, a resistência e o jus sperniandi pelo gentílico “acrEano”. Afinal, nós lutamos foi para sermos “acrEanos”. “AcrIano” nos soa artificial, boçal. Uma modinha. E, pior, algo que nos foi imposto goela abaixo. Assim, de uma hora para outra. E, além disso, quem nos conhece, sabe que somos, de fato, um povo de embates. Já nascemos assim. No Acre, tudo termina em Fla-Flu, tudo é politizado, tudo ganha um contorno grandiloquente, tudo vira uma contenda sem fim. Não seria essa questão que haveria de ser diferente. Embora, isso não signifique “megalomania”. “Megalomania” é outra coisa, é a supervaloração mórbida de si mesmo. A mania de grandeza[3]. E quem nos conhece, sabe que não somos assim. O “acrEano” é um povo simples, acolhedor e simpático.
Entretanto, é óbvio que o acordo ortográfico é importante e não foi feito com intuito de “arengar” com os “acrEanos”. A regra vale para todos os gentílicos que tenham origem em nomes terminados em “e” átono, uma tendência que se firmou ao longo de todo o século XX e que foi consagrada no Novo Acordo.
O idioma que falamos e temos em comum, une milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, em vários continentes, na América, Europa, África e Ásia. Um idioma que, embora oficialmente seja o mesmo, acaba sendo vários, dada a diversidade de como é praticado. Em Portugal uma coisa “fixe”, é uma coisa legal; uma coisa “giro”, é uma coisa bonita. E eles simplesmente não nos entendem quando usamos a palavra “meia”, para nos referirmos ao algarismo seis.
Para além de tudo isso, temos que admitir que existem aqueles momentos na vida em que temos que reconhecer que a guerra está perdida. Reza a estratégia militar, que às vezes é necessário recuar um passo para poder avançar dois.
A norma culta, da nossa língua pátria, estabelece, de comum acordo, que a partir de agora a grafia correta do gentílico é “acrIano”, com I mesmo. Paciência!
No entanto, nada impede que quem quiser, e fizer questão absoluta disso, possa continuar utilizando “acrEano”, como reza a tradição. Afinal, não se trata de uma regra jurídica cogente e, por isso mesmo, não possui sanção. Ou seja, ninguém vai ser preso ou processado por isso.
Além do mais, a tradição também é fonte do Direito.
A única sanção possível na teimosia, tipicamente “acrEana”, em se continuar a utilizar o “acrEano”, além de uma nota mais baixa na escola, seria a acusação de “escrever errado” e de não observar a “norma culta” da língua.
Agora, convenhamos, se por acaso o Rei fosse se preocupar com isso, passaria a cantar:
“Eu dar-te-ei o céu, meu bem!
E o meu amor também…”.
Já pensou? O romantismo estaria irremediavelmente perdido. Passaríamos a viver a ditadura dos intelectuais mal-amados.
Por outro lado, os ideais de um povo se constroem justamente nas lutas e na resistência.
Sammy Barbosa Lopes, 44, é acriano, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre – atualmente afastado para estudos e aperfeiçoamento, membro da International Association of Prosecutors, ex-procurador-geral de Justiça, ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e da União – CNPG, mestre em Direito pela UFSC e doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa.
[1] Dicionário Michaelis.
[2] Cf. FOX, Alvin. General Aspects of Bacterial Pathogenesis. University of South Carolina School of Medicine: Microbiology and Immunology On-line Textbook, USA, 2010.
[3] Dicionário Michaelis.
Compartilhe isso:
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)
- Clique para imprimir(abre em nova janela)
- Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela)